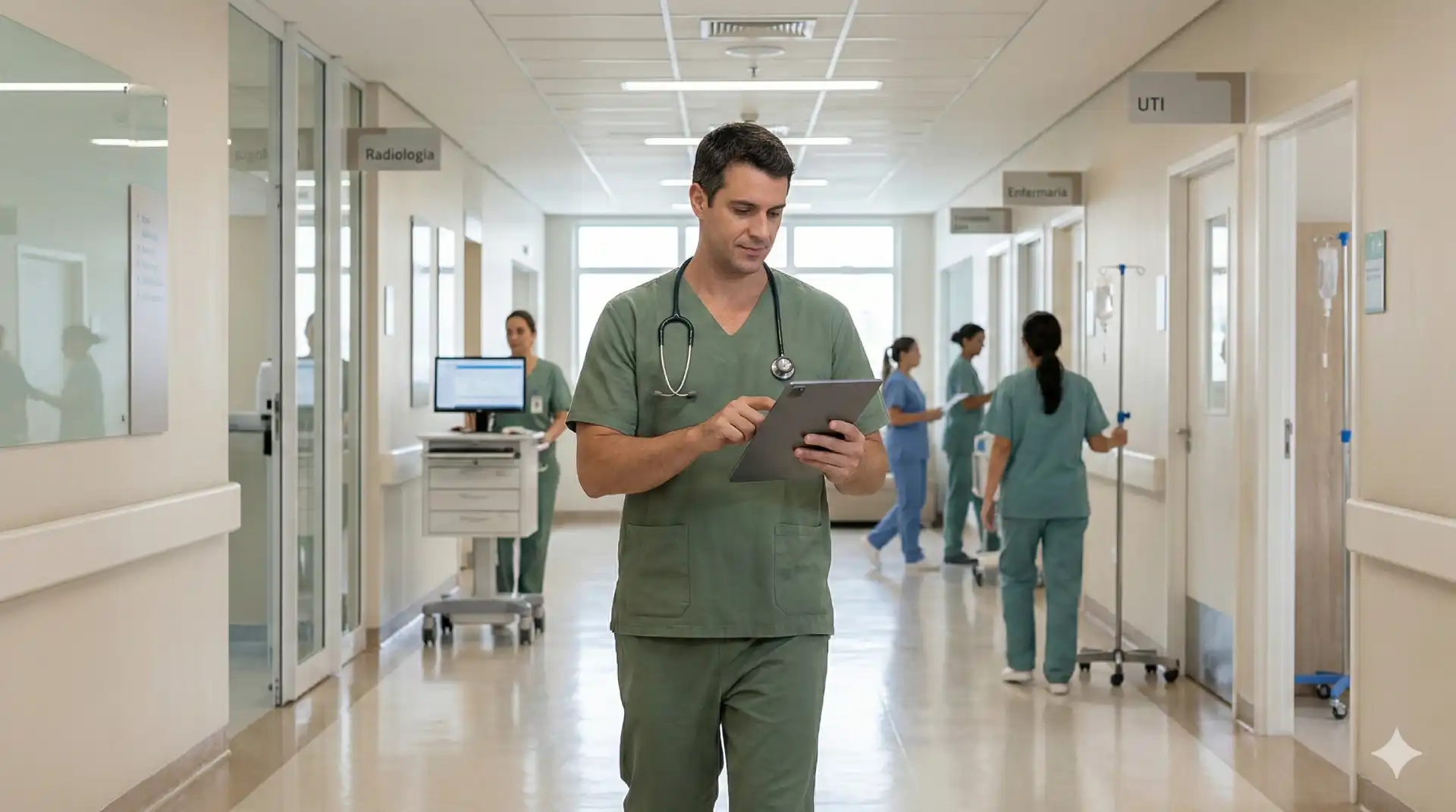Uma pesquisa desenvolvida por cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) está ajudando a redefinir a compreensão sobre o Alzheimer e pode abrir caminho para novas abordagens terapêuticas. O estudo, publicado na revista Nature Neuroscience, aponta que a inflamação no cérebro não é apenas um efeito colateral da doença — ela pode ser um elemento determinante para que o Alzheimer se estabeleça e avance.
A descoberta foi liderada pelo laboratório do neurocientista Eduardo Zimmer, que há anos investiga os mecanismos associados às demências. Os resultados mostram que o acúmulo das proteínas beta-amiloide e tau, características da doença, só desencadeia uma resposta prejudicial nos astrócitos — células que atuam na sustentação e comunicação do sistema nervoso — quando a microglia, responsável pela defesa imunológica do cérebro, também está ativada.
Leia também: IoT na Medicina: tendências que estão transformando a medicina
A peça que faltava no quebra-cabeça do Alzheimer
A presença das proteínas anormais já é conhecida como uma das marcas do Alzheimer. Elas formam estruturas rígidas e insolúveis — popularmente comparadas a “pedrinhas” no cérebro — que prejudicam a comunicação entre neurônios. No entanto, até agora não estava claro por que essas formações nem sempre provocavam os mesmos efeitos em todas as pessoas.
Segundo Zimmer, a chave está na interação entre os astrócitos e a microglia. Apenas quando ambas as células entram em um estado de ativação, a inflamação se instala e dá início à cascata de danos que caracteriza a doença.
“Sabíamos que as placas de beta-amiloide deixavam os astrócitos reativos. O que não sabíamos é que, para que a doença realmente se estabeleça, é preciso que a microglia também esteja reativa. Quando essas duas células estão ativas ao mesmo tempo, elas interagem com as placas de proteína e criam um ambiente inflamatório que acelera a neurodegeneração”, explica o pesquisador.

Primeira vez que o fenômeno é observado em pacientes vivos
Até então, evidências sobre essa relação haviam sido obtidas em experimentos com animais ou em análises de cérebros humanos após a morte. A inovação do novo estudo está no uso de exames de imagem de alta precisão e biomarcadores ultrassensíveis que permitem observar, em tempo real, como essas células se comportam em pessoas vivas.
Essa tecnologia possibilitou confirmar, de maneira inédita, a comunicação entre astrócitos e microglia como um processo determinante no desenvolvimento da doença. De acordo com os pesquisadores, o modelo criado com base nesses dados consegue explicar até 76% da variação na cognição observada entre os pacientes analisados — um índice considerado excepcionalmente alto em estudos desse tipo.
Por que as placas se formam? Fatores de risco ajudam a explicar
Apesar de a ciência ainda não ter uma explicação definitiva para o surgimento da beta-amiloide, Zimmer lembra que já existe um conhecimento consistente sobre os fatores que aumentam ou reduzem o risco de desenvolver Alzheimer. Segundo ele, a doença resulta de uma combinação entre predisposição genética e exposições acumuladas ao longo da vida — conceito chamado de expossoma.
Fatores que favorecem o aparecimento da doença incluem:
- tabagismo;
- consumo excessivo de álcool;
- sedentarismo;
- obesidade;
- má alimentação.
Já práticas que ajudam a reduzir o risco são bem conhecidas:
- atividade física regular;
- sono de qualidade;
- alimentação equilibrada;
- estímulo intelectual constante;
- controle de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.
“Quanto mais exposições positivas o indivíduo acumular ao longo da vida, menores as chances de desenvolver Alzheimer no futuro”, destaca o neurocientista.
Mudança de paradigma no tratamento
Nos últimos anos, grande parte das pesquisas e dos investimentos internacionais focaram em terapias voltadas para a remoção das placas de beta-amiloide do cérebro. A nova descoberta, porém, indica que esse caminho pode ser apenas parte da solução.
Se a inflamação desempenha papel tão central, novos tratamentos precisam mirar não apenas as proteínas acumuladas, mas também a comunicação entre astrócitos e microglia. A meta seria “acalmar” o diálogo inflamatório entre as duas células, impedindo que a doença avance mesmo na presença das placas.
“A ideia, agora, é que além de remover essas ‘pedrinhas’, será necessário desenvolver medicamentos capazes de modular essa resposta inflamatória no cérebro”, afirma Zimmer.
Essa visão mais ampla pode ajudar a explicar por que tratamentos experimentais focados exclusivamente na beta-amiloide têm apresentado resultados limitados.
Avanço da ciência brasileira
O trabalho, apoiado pelo Instituto Serrapilheira, reforça a capacidade da ciência nacional em contribuir para áreas estratégicas da saúde global. A participação brasileira em publicações de alto impacto, como a Nature Neuroscience, fortalece o papel de pesquisadores nacionais no cenário internacional de estudo das demências.
A nova perspectiva abre espaço para futuras pesquisas que aprofundem o entendimento da neuroinflamação, identifiquem biomarcadores mais precisos para detecção precoce e desenvolvam terapias que possam controlar os estágios iniciais da doença — momento em que o tratamento é mais eficaz.
Um passo importante, mas com muito caminho pela frente
Embora o Alzheimer ainda não tenha cura, o estudo oferece uma nova pista concreta sobre o que pode desencadear a doença e como ela se desenvolve. Entender esse mecanismo é fundamental para criar tratamentos mais efetivos e estratégias de prevenção mais assertivas.
“Cada nova peça que conseguimos encaixar nesse quebra-cabeça nos aproxima de intervenções que possam realmente mudar o curso da doença”, destaca Zimmer.
O avanço coloca o Brasil no centro de uma discussão científica global e reacende a esperança de que, no futuro, será possível não apenas retardar, mas talvez impedir o progresso do Alzheimer.
Fonte: Agência Brasil